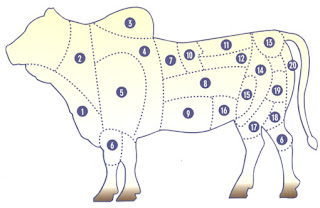sábado, 26 de maio de 2012
Carnes gaúchas selecionadas
Quando amigos gays me pedem dicas de Porto Alegre, costumo fazer uma ressalva: "os gaúchos são lindos, mas preferem sair da toca bem longe de casa. Não esperem encontrar nos clubes da cidade a profusão de galãs que se vê nas festas do verão de Floripa ou do Rio". Já disse isso no blog, também. Depois da minha última visita à capital gaúcha, no final de semana passado, tive de rever meus conceitos. Fui conhecer o Madam, boate que deu uma sacudida na cena gay da cidade, e me surpreendi. O lugar não é especialmente grande ou bonito, embora seja adequado ao porte de uma cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Mas a frequência... bem capaz, me caíram os butiá do bolso, tchê! Um mooonte de homem bonito, de rosto e de corpo, em várias cores e tamanhos. Não sei se dei sorte naquela noite, ou se o movimento estava melhor que o normal por conta do DJ convidado (Paulo Pacheco, da The Week, por sinal um gaúcho expatriado). Só sei que a noite foi boa o suficiente para eliminar qualquer resquício de má vontade que tivesse ficado das minhas visitas anteriores a Porto Alegre. Falando em DJ, vale acrescentar que a prata da casa não ficou devendo nada à atração de fora. A única nota destoante foram os três (!) blecautes que a boate sofreu ao longo da noite. Mas os gaúchos são tão educados, mas tão educados, que não rolou nenhuma mão-boba não solicitada durante os apagões. Imaginem se isso tivesse acontecido em algum clube aqui no Sudeste...
quarta-feira, 23 de maio de 2012
Barato de mentirinha
Paraísos Artificiais se propõe a ser um retrato da juventude frequentadora de raves e festivais de música eletrônica, com todos os excessos hedonistas que costumam vir no pacote. É louvável que um filme brasileiro tenha coragem de falar sobre esse assunto, que sempre foi abordado pela mídia de forma parcial e sensacionalista. Pena que não o tenha feito dez anos antes, quando as tais festas estavam no auge e representavam um fenômeno pertinente. Hoje, a cena já mudou tanto que o filme soa um tanto datado, para não dizer anacrônico. De qualquer maneira, a direção de Marcos Prado e a produção de José Padilha (Ônibus 174 e Tropa de Elite) já foram suficientes para instigar minha curiosidade.
O enredo: uma DJ e sua amiga vão a um festival eletrônico numa praia paradisíaca. Lá pelas tantas, conhecem um gatinho, vivem um momento intenso regado a sexo e drogas, e só voltarão a se encontrar anos mais tarde, por acaso, em Amsterdã. Esse quadro vai sendo construído aos poucos, já que a narrativa é todinha retalhada, cheia de idas e vindas no tempo (sim, mais um filme não-linear... até quando, meu Deus???). As atuações dos protagonistas não chegam a ser sublimes, mas têm seus momentos de entrega, e não vou estranhar se a carreira televisiva dos três decolar logo, logo. Até porque eles são lindos como o povo gosta. A fotografia é exuberante, com locações no Rio, em Pernambuco, Alagoas e Amsterdã, e a trilha sonora tem faixas escolhidas a dedo. Posto dessa maneira, parece mesmo a alquimia perfeita.
Apesar disso, a bala do filme não bateu em mim. A artificialidade antecipada pelo título estava em toda parte, a começar pela tal "grande rave no paraíso": um amontoado de figurantes bonitos, magros, sarados, de pele dourada e sotaque carioca, saídos diretamente do departamento de RH do Shopping Leblon. Para dar o arremate, um cinquentão hippie estereotipado oferecia conselhos enlatados para a galere, numa atuação constrangedora que só faria algum sentido dentro do set de Malhação. É verdade que nessa fase da vida os jovens vivem o momento e fazem loucuras, mas o consumo de drogas é retratado de maneira tão excessivamente romantizada, ingênua, pueril, que se torna pouco crível, sobretudo por quem já teve algum contato com o universo eletrônico. Além disso, ao colocar um casal hétero tomando GHB em uma rave de trance, o diretor erra a mão na caricatura e mistura referências de épocas e tribos diferentes e inconciliáveis, mais ou menos como se os Beatles comessem acarajé no Sónar. Simplesmente não cola.
Por fim, para um filme que se pretende tão moderninho, a mensagem subliminar é surpreendentemente careta e moralista. Sim, é claro que o uso de drogas tem seu preço e pode trazer consequências como acidentes, mortes, prisões e famílias desestruturadas. Há exemplos ao redor de todos nós. Mas mostrar todas essas consequências acontecendo ao mesmo tempo é um pouco meio muito, não? E o que dizer do garoto que se envolve com o tráfico só porque tinha um irmão que serviu de exemplo... e depois ainda se arrepende e se salva no final do filme, quando aliás todos os personagens que não morrem sofrem algum tipo de redenção? Só faltou aparecer o brasão do Governo Federal.
Talvez eu tenha me decepcionado porque vi os nomes de Marcos Prado e José Padilha e esperei algo mais próximo de um documentário, que se pudesse levar a sério, como análise de um fenômeno de comportamento ou mesmo de uma geração. Mas Paraísos Artificiais não segura a onda - é tanta caricatura junta que não convence nem como obra de ficção.
O enredo: uma DJ e sua amiga vão a um festival eletrônico numa praia paradisíaca. Lá pelas tantas, conhecem um gatinho, vivem um momento intenso regado a sexo e drogas, e só voltarão a se encontrar anos mais tarde, por acaso, em Amsterdã. Esse quadro vai sendo construído aos poucos, já que a narrativa é todinha retalhada, cheia de idas e vindas no tempo (sim, mais um filme não-linear... até quando, meu Deus???). As atuações dos protagonistas não chegam a ser sublimes, mas têm seus momentos de entrega, e não vou estranhar se a carreira televisiva dos três decolar logo, logo. Até porque eles são lindos como o povo gosta. A fotografia é exuberante, com locações no Rio, em Pernambuco, Alagoas e Amsterdã, e a trilha sonora tem faixas escolhidas a dedo. Posto dessa maneira, parece mesmo a alquimia perfeita.
Apesar disso, a bala do filme não bateu em mim. A artificialidade antecipada pelo título estava em toda parte, a começar pela tal "grande rave no paraíso": um amontoado de figurantes bonitos, magros, sarados, de pele dourada e sotaque carioca, saídos diretamente do departamento de RH do Shopping Leblon. Para dar o arremate, um cinquentão hippie estereotipado oferecia conselhos enlatados para a galere, numa atuação constrangedora que só faria algum sentido dentro do set de Malhação. É verdade que nessa fase da vida os jovens vivem o momento e fazem loucuras, mas o consumo de drogas é retratado de maneira tão excessivamente romantizada, ingênua, pueril, que se torna pouco crível, sobretudo por quem já teve algum contato com o universo eletrônico. Além disso, ao colocar um casal hétero tomando GHB em uma rave de trance, o diretor erra a mão na caricatura e mistura referências de épocas e tribos diferentes e inconciliáveis, mais ou menos como se os Beatles comessem acarajé no Sónar. Simplesmente não cola.
Por fim, para um filme que se pretende tão moderninho, a mensagem subliminar é surpreendentemente careta e moralista. Sim, é claro que o uso de drogas tem seu preço e pode trazer consequências como acidentes, mortes, prisões e famílias desestruturadas. Há exemplos ao redor de todos nós. Mas mostrar todas essas consequências acontecendo ao mesmo tempo é um pouco meio muito, não? E o que dizer do garoto que se envolve com o tráfico só porque tinha um irmão que serviu de exemplo... e depois ainda se arrepende e se salva no final do filme, quando aliás todos os personagens que não morrem sofrem algum tipo de redenção? Só faltou aparecer o brasão do Governo Federal.
Talvez eu tenha me decepcionado porque vi os nomes de Marcos Prado e José Padilha e esperei algo mais próximo de um documentário, que se pudesse levar a sério, como análise de um fenômeno de comportamento ou mesmo de uma geração. Mas Paraísos Artificiais não segura a onda - é tanta caricatura junta que não convence nem como obra de ficção.
segunda-feira, 7 de maio de 2012
Tesão reprimido
Tive a maior boa vontade do mundo para dar uma chance à Virada Cultural. De toda a (extensa) programação, o que mais me chamou atenção foi o "festival gastronômico" armado no Minhocão. A ideia parecia irresistível: chefs de restaurantes renomados venderiam quitutes como steak tartare, polenta com cogumelos e sanduíche de picadinho em barracas, a preços populares (entre R$5 e R$15). Deu muito errado, como todos sabem: a demanda foi bem maior do que os organizadores podiam sequer sonhar. Pensar que míseras 500 porções de galinhada com a assinatura de Alex Atala dariam conta do recado foi de uma ingenuidade atroz. Ainda mais com o interesse cada vez maior do paulistano leigo por gastronomia.
Nem me abalei a pagar esse mico anunciado, mas esperava que durante o domingo as coisas fossem mais calmas, com o movimento diluído ao longo do dia. Cheguei com dois amigos às 14h30 e mal dava para se movimentar pelo Minhocão, que estava completamente abarrotado. Filas indianas impensáveis serpenteavam em frente às barracas. O caos. Ficamos quinze minutos e acionei um plano B que salvou o dia: o Bar da Dona Onça, que também estava lotado, mas recompensou a espera com uma comida infinitamente superior à das outras vezes em que eu havia estado lá.
Enquanto cruzávamos o Centro até o Copan, percebíamos a dimensão que a Virada havia tomado. Qualquer atração atraía multidões, indiscriminadamente; não dava pra chegar perto dos palcos. As pessoas estavam ávidas por qualquer coisa que lhes fosse oferecida. São Paulo é uma cidade privada; os lazeres e prazeres são praticamente todos privados, e se celebra muito pouco o espaço público (ao contrário do que acontece no Rio, e nesse sentido não estou falando apenas de praia). Quando se acena com a menor migalha que seja, nota-se o quão absurda é a demanda reprimida que temos, de tudo. Uma estação de metrô é inaugurada e, em menos de doze meses, já atinge a saturação (a Paulista já superou a Sé). É muito depressa. E como explicar o inchaço da Parada Gay, tomada de assalto por uma multidão que, em boa parte, não está ali para apoiar a causa LGBT? São pessoas que veem no evento uma rara oportunidade de lazer grátis, com música e bebida barata. Qualquer coisa que vier é lucro. Se fizéssemos três Paradas e três Viradas por ano, certamente todas elas lotariam. Em São Paulo, estamos todos famintos, à espera de pedaços de galinhada.
Nem me abalei a pagar esse mico anunciado, mas esperava que durante o domingo as coisas fossem mais calmas, com o movimento diluído ao longo do dia. Cheguei com dois amigos às 14h30 e mal dava para se movimentar pelo Minhocão, que estava completamente abarrotado. Filas indianas impensáveis serpenteavam em frente às barracas. O caos. Ficamos quinze minutos e acionei um plano B que salvou o dia: o Bar da Dona Onça, que também estava lotado, mas recompensou a espera com uma comida infinitamente superior à das outras vezes em que eu havia estado lá.
Enquanto cruzávamos o Centro até o Copan, percebíamos a dimensão que a Virada havia tomado. Qualquer atração atraía multidões, indiscriminadamente; não dava pra chegar perto dos palcos. As pessoas estavam ávidas por qualquer coisa que lhes fosse oferecida. São Paulo é uma cidade privada; os lazeres e prazeres são praticamente todos privados, e se celebra muito pouco o espaço público (ao contrário do que acontece no Rio, e nesse sentido não estou falando apenas de praia). Quando se acena com a menor migalha que seja, nota-se o quão absurda é a demanda reprimida que temos, de tudo. Uma estação de metrô é inaugurada e, em menos de doze meses, já atinge a saturação (a Paulista já superou a Sé). É muito depressa. E como explicar o inchaço da Parada Gay, tomada de assalto por uma multidão que, em boa parte, não está ali para apoiar a causa LGBT? São pessoas que veem no evento uma rara oportunidade de lazer grátis, com música e bebida barata. Qualquer coisa que vier é lucro. Se fizéssemos três Paradas e três Viradas por ano, certamente todas elas lotariam. Em São Paulo, estamos todos famintos, à espera de pedaços de galinhada.
terça-feira, 1 de maio de 2012
Sexo na obra
 Na noite de ontem foi inaugurado no centro de São Paulo o Chilli Pepper, que se vendia como o "primeiro hotel para gays solteiros da cidade". O negócio anterior do proprietário, a extinta sauna 269, tinha sido um grande sucesso de crítica e público; quando fechou as portas para dar lugar a um empreendimento imobiliário, deixou uma legião de fãs saudosos e uma lacuna no mercado que ninguém mais soube preencher. A notícia da casa nova gerou frisson no mundinho, que entrou em clima de contagem regressiva. Os detalhes anunciados para a imprensa só aguçavam a curiosidade: três andares, 2300m² de área construída e requintes como aquecimento elétrico nos pisos, ofurôs e piscinas de verão e inverno davam a impressão de uma casa suntuosa.
Na noite de ontem foi inaugurado no centro de São Paulo o Chilli Pepper, que se vendia como o "primeiro hotel para gays solteiros da cidade". O negócio anterior do proprietário, a extinta sauna 269, tinha sido um grande sucesso de crítica e público; quando fechou as portas para dar lugar a um empreendimento imobiliário, deixou uma legião de fãs saudosos e uma lacuna no mercado que ninguém mais soube preencher. A notícia da casa nova gerou frisson no mundinho, que entrou em clima de contagem regressiva. Os detalhes anunciados para a imprensa só aguçavam a curiosidade: três andares, 2300m² de área construída e requintes como aquecimento elétrico nos pisos, ofurôs e piscinas de verão e inverno davam a impressão de uma casa suntuosa.Até certo ponto, eu sabia que era preciso filtrar essas informações. O rótulo de "hotel" mais parecia um truque para afastar o estigma de sauna e proteger a casa contra uma provável hostilidade da vizinhança, como acontecera com a 269 na rua Bela Cintra. Como bom conhecedor do Centro, eu sabia que o entorno do empreendimento era bastante degradado e achei graça quando o empresário disse que se tratava de "uma área privilegiada do Arouche, nosso Village/Soho" [sic]. Pode até ser uma região com expressiva presença gay (a preços bem mais viáveis do que os do eixo Paulista-Jardins, néam?), mas essa comparação é, no mínimo, exagerada. Assim, o que eu esperava era encontrar o mesmo conceito de complexo de pegação da 269 - mas elevado a um patamar muito superior de conforto e sofisticação.
E o que vi foi uma casa ainda em obras, que não estava pronta para ser aberta. A fachada estava coberta pelo que pareciam ser grandes sacos de lixo. Não havia vestiários ou armários: os clientes tinham que se despir em um espaço improvisado e colocar sua roupa em sacolas plásticas, que um funcionário guardava em prateleiras do outro lado do balcão. As saunas propriamente ditas não funcionavam; a jacuzzi estava cheia, mas de água fria. O que havia para ser "desfrutado" era um bar (onde a pouquíssima luz tentava disfarçar a falta de acabamento) e um segundo piso com corredores e cabines - esse completamente no escuro, obrigando as pessoas a tatear e adivinhar a disposição de um espaço que elas desconheciam. Não dava pra ser claro demais, é verdade, mas pequenas luzes vermelhas sinalizando o chão teriam sido suficientes para dar alguma segurança aos frequentadores.
O imóvel, que abrigava uma agência bancária, é gigante e tem todas as condições de virar uma supersauna para ninguém botar defeito, sem deixar saudades da 269. Empregar transexuais na equipe foi um gesto de inclusão social simples e simpático, que outras empresas deveriam seguir. Também gostei da originalidade da trilha sonora, que ousou fugir do surrado bate-cabelo gay (nunca pensei que ouviria Talking Heads num espaço como aquele!). Mas, depois de ter prometido um luxo nababesco, a casa jamais poderia ter sido aberta ao público naquele estado - e, pior, cobrando dos clientes o preço normal de entrada. Entendo que obras são demoradas e caras, e talvez o dono já estivesse com a corda no pescoço, precisando colocar algum dinheiro em caixa. Mas teria sido melhor segurar a inauguração por mais duas semanas e entregar o lugar em condições adequadas, evitando a má impressão de que foi aberto às pressas, sem o menor cuidado com o consumidor.
Assinar:
Comentários (Atom)